Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
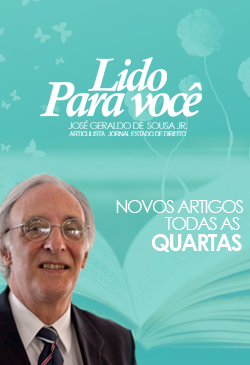
Lucas Silva de Souza. A Estratégia dos EUA Contra a “Novidade” das Ameaças Híbridas do Eixo Sino-Russo: o Ilegal Emprego do Lawfare na Guerra e como Seu Substituto. Tese apresentada ao curso de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2025, 305 fls.
A tese foi apresentada, defendida e aprovada perante a Banca Examinadora formada pelas professoras Larissa Liz Odreski Ramina (UFPR), Orientadora e Presidenta da Banca Examinadora, Janaia Maria Lopes Saldanha (UNISINOS), Tatyana Scheila Friedrich (UFPR), Carol Proner (UFRJ) e por mim, da UnB.
Do que trata a tese, remeto ao seu resumo:
Esta tese investiga a evolução dos conceitos de “guerra híbrida” e “lawfare” em um contexto de crescente polarização global, marcada pela rivalidade entre os EUA e o eixo sino-russo. A tese defende que, embora a guerra, a violência e a lei se inter-relacionem de forma intrínseca, o conceito de “novidade” atribuído às ameaças híbridas, primeiramente voltado ao terrorismo global e, hoje, expandido para a China e a Rússia, serve como justificativa para o uso instrumental do Direito pelos EUA, ainda que os países considerados “revisionistas” tenham se valido de muitas das doutrinas desenvolvidas pelos EUA, como a legitima defesa preventiva, a intervenção humanitária e o uso de sanções. Parte-se da hipótese de que o proselitismo dos EUA no Norte Global promove um conceito de guerra híbrida amplo e direcionado, visando justificar sua ingerência em outros países. Para compreender essa dinâmica, o trabalho analisa tanto a perspectiva ocidental, com foco na Rússia e China, quanto a visão desses países.
Argumenta-se que o lawfare é a principal estratégia estadunidense para manter sua hegemonia, operando de duas formas: a reinterpretação de normas referentes ao uso da força e o uso estratégico de leis extraterritoriais. Partindo dessa premissa, a pesquisa busca responder como o lawfare é operacionalizado pelos EUA e de qual maneira ele afeta as relações internacionais como facilitador da guerra e como seu substituto, mundialmente, e na região latino-americana.
Visando esse propósito, o objetivo desta tese é conduzir uma análise crítica sobre as guerras híbridas e o lawfare. A pesquisa busca entender como esses conceitos se desenvolvem em um cenário de crescente polarização, onde a criação de novas normas e alianças militares aumenta o risco de escalada bélica, viola o uso da força e legitima a ingerência estadunidense em países não alinhados. Para isso, o estudo pretende identificar a construção conceitual das guerras híbridas a partir de teorias do Norte Global, analisar as contradições nas acusações mútuas entre os EUA, a China e a Rússia, e investigar como o lawfare é instrumentalizado pelos EUA tanto nas leis de conflito armado como com o uso de suas legislações extraterritoriais. Para isso, o trabalho se divide em duas partes complementares. A primeira investiga a construção conceitual das guerras híbridas a partir de múltiplas perspectivas acadêmicas, políticas e militares do Norte Global, bem como as contranarrativas desenvolvidas pela Rússia e China. A segunda parte aprofunda a análise do lawfare estadunidense, examinando como a instrumentalização do direito internacional no uso da força armada e transcendendo ao âmbito convencional da guerra, atingindo países por meio de legislações extraterritoriais, sejam eles seus rivais, aliados, ou países não alinhados, sendo o maior caso no contexto latino-americano de lawfare estadunidense o lavajatismo no Brasil. A pesquisa utiliza o método dialético para analisar as contradições conceituais e a instrumentalização do direito, valendo-se de referenciais teóricos de correntes críticas, como a Third World Approaches to International Law (TWAIL) e de pesquisadores latino-americanos. O estudo justifica-se pela atualidade e relevância do tema, propondo uma análise crítica que investiga os efeitos desses construtos teóricos em nível global e regional.
Sobre a “Novidade” anunciada no título da tese, a tomo mais no sentido do exigível ineditismo próprio dessa modelagem de trabalho acadêmico. O Autor, já está amadurecido em sua reflexão nesse tema. Basta ver Larissa Ramina | Lucas Silva de Souza – Organização. Lawfare: aspectos conceituais e desdobramentos da guerra jurídica no Brasil e na América Latina – Volume VI.
Além de co-organizador da obra, Lucas, que figura na forte bibliografia do tema da tese, junto com a sua orientadora e professoras da banca, que atuam no mesmo campo, tem no livro um artigo “As Novas Estratégias de Controle Hegemônico dos EUA na América Latina: Lawfare e Cruzada Anticorrupção”, págs 133-180.
Ainda que o foco do ensaio de Lucas nessa obra seja o tema da corrupção, na tese ele se apresenta amparado por uma importante contribuição do, eu diria Grupo de Curitiba (UFPR), a partir do vastíssimo rol de obras estrangeiras que sustenta esse campo de estudos.
Na tese, o trabalho se desenvolve pelo roteiro indicado no seu Sumário:
INTRODUÇÃO
PARTE 1. A GUERRA HÍBRIDA GLOBAL: RUSSIA E CHINA COMO VÍTIMAS EPERPETRADORAS DE ESTRATÉGIAS HÍBRIDAS
- A GUERRA HÍBRIDA SOB O PRISMA DO NORTE GLOBAL E SUA RELAÇÃO
COM O EIXO SINO-RUSSO
1.1 A GENEALOGIA DO CONCEITO DE GUERRA HÍBRIDA
1.2 A ANÁLISE DA OTAN ENTRE A GUERRA HÍBRIDA E A “ZONA CINZA”
1.3 O COMPONENTE IRREGULAR, INDIRETO OU ASSIMÉTRICO DAS GUERRAS HÍBRIDAS
1.4 A GUERRA HÍBRIDA NO CIBERESPAÇO: GUERRA INFORMACIONAL E CIBERATAQUES
1.5 O LAWFARE SUA GENEALOGIA CONCEITUAL E RELAÇÃO COM O HIBRIDISMO DA GUERRA
- AS GUERRAS HÍBRIDAS NA VISÃO RUSSA, CHINESA E AS ACUSAÇÕES OCIDENTAIS
2.1 O CONFLITO RUSSO-UCRANIANO COMO GUERRA HÍBRIDA
2.1.1 A Guerra híbrida estadunidense contra a Rússia na teoria de Andrew Korybko
2.1.2 O posicionamento russo e os interesses geopolíticos envolvidos
2.1.3 As estratégias híbridas russas contra a Ucrânia sob o prisma ocidental
2.2 A “GUERRA SEM LIMITES”: ENTRE A CRÍTICA CHINESA AO MODUS OPERANDI ESTADUNIDENSE E A GUERRA HÍBRIDA À CHINESA
2.2.1. A “guerra irrestrita” e a doutrina das “três guerras” a partir das lentes chinesas e ocidentais
PARTE 2. O LAWFARE COMO ESTRATÉGIA ESTADUNIDENSE FACE À “NOVIDADE” DAS ESTRATÉGIAS HIBRIDAS TERRORISTAS E DO EIXO SINORUSSO
- A DETURPAÇÃO ESTADUNIDENSE DAS LEIS RELATIVAS AO JUS AD BELLUM E AO JUS IN BELLO
3.1 O ILEGAL ALARGAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA CONTRA ÀS AMEAÇAS NÃO ESTATAIS
3.2 A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS POR MEIO DO USO DA FORÇA
3.3 O MANUAL DE TALLIN E SUAS “REGRAS” NA DEFESA DO EMPREGO DA FORÇA ARMADA CONTRA CIBEROPERAÇÕES
3.3.1 A teoria dos efeitos como justificadora da legítima defesa contra ciberataques
3.3.2 A abertura conferida às contramedidas armadas
3.4 As deturpações do Direito Internacional Humanitário e a sua judicialização em tribunais internacionais
- LEGISLAÇÕES EXTRATERRITORIAIS ESTADUNIDENSES E O LAWFARE COMO SUBSTITUTO DO WARFARE
4.1 AS SANÇÕES UNILATERAIS ESTADUNIDENSES E SEU CONTROLE PELO OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC)
4.1.2 O lawfare estadunidense contra supostas estratégias hibridas da China no ciberespaço com fulcro na OFAC
4.2 O FOREIGN CORRUPTS PRACTICES ACT (FCPA) SUA OPERACIONALIZAÇÃO E EFEITOS GLOBAIS
4.2.1 O lawfare jurídico-midiático empregado pelo EUA contra o Brasil visando seus interesses geopolíticos e a mudança de regime
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
Vejamos qual o alcance que Lucas de Souza vai atribuir à estratégia dos EUA contra a “novidade” das ameaças híbridas do eixo sino-russo e o ilegal emprego do lawfare na guerra e como seu substituto.
Nas primeiras décadas do século XXI, o vocabulário das relações internacionais passou a ser marcado pela expressão “ameaças híbridas”. Essa noção designa o emprego articulado de instrumentos militares, econômicos, informacionais, cibernéticos e jurídicos como forma de alcançar objetivos estratégicos. Não se trata apenas de tanques ou frotas, mas de um conjunto de recursos não convencionais que, empregados de modo combinado, podem produzir efeitos tão devastadores quanto uma intervenção armada.
Na retórica dominante, tais ameaças têm sido atribuídas sobretudo ao chamado eixo sino-russo. Documentos de segurança nacional dos Estados Unidos e de seus aliados na OTAN frequentemente descrevem Rússia e China como pioneiros nesse tipo de guerra, capazes de desestabilizar democracias ocidentais por meio de campanhas de desinformação, espionagem cibernética, sanções econômicas recíprocas e, mais recentemente, por meio da exploração estratégica do direito.
O paradoxo, entretanto, é que os próprios EUA mobilizam práticas híbridas há muito tempo. Entre essas práticas, destaca-se o uso do lawfare, ou seja, a utilização instrumental e abusiva do direito como arma de guerra política e geopolítica. Mais do que um complemento, o lawfare se consolida como um verdadeiro substituto da guerra tradicional, capaz de atingir adversários sem disparar um único projétil.
Trata-se de analisar criticamente esse fenômeno, investigando as implicações do emprego do lawfare pelos EUA contra a suposta “novidade” das ameaças híbridas do eixo sino-russo. O objetivo é compreender de que maneira o direito, que deveria servir como limite à violência e garantia de justiça, vem sendo apropriado como instrumento de dominação, corroendo a própria ordem internacional que os EUA afirmam proteger.
Assim que, me dou conta, em Lucas a “novidade” está mais em situar a guerra híbrida como fenômeno contemporâneo. Com efeito, o conceito de guerra híbrida ganhou força a partir da primeira década do século XXI. A guerra da Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014 e as operações russas na Síria são frequentemente citadas como exemplos de estratégias híbridas. Na narrativa ocidental, a combinação de ataques cibernéticos, uso de forças paramilitares, propaganda midiática e pressões jurídicas e econômicas teria revelado uma “novidade” no campo da segurança.
No entanto, a ideia de articular instrumentos diversos não é propriamente nova. Ao longo da história, bloqueios econômicos, propaganda ideológica e imposição de arbitragens jurídicas sempre acompanharam os conflitos militares. O que parece novo é a centralidade adquirida por esses meios e, sobretudo, a sua sistematização como doutrina de segurança.
Ao projetar esse fenômeno como inovação alheia, os EUA ocultam o fato de que sempre recorreram a práticas híbridas. Desde o bloqueio econômico a Cuba até o uso de sanções extraterritoriais contra empresas que negociam com países considerados hostis, passando pelo emprego seletivo de tribunais internacionais, a experiência norte-americana evidencia que o híbrido faz parte estrutural de sua estratégia global.
Penso que é nesse passo que o denominado lawfare vai se constituir numa categoria substitutiva da noção de guerra. Pois, entre os componentes da guerra híbrida, o lawfare ocupa um lugar cada vez mais destacado. O termo, cunhado no final dos anos 1990, designa o uso do direito como arma de guerra: processos judiciais, sanções legais, manipulação de normas internacionais e instrumentalização de tribunais podem ser usados para enfraquecer adversários sem necessidade de confronto armado.
Nos últimos anos, o lawfare ganhou notoriedade na América Latina, em especial pelo uso de sistemas de justiça nacionais para perseguir lideranças políticas. Entretanto, o fenômeno extrapola o âmbito interno e se projeta no campo internacional. Ao aplicar sanções econômicas baseadas em leis domésticas de alcance global, os EUA tornam o direito um mecanismo de coerção extraterritorial. Ao apoiar ou bloquear decisões em organismos multilaterais conforme seus interesses, instrumentalizam a aparência de legalidade como arma diplomática.
Essa prática apresenta vantagens estratégicas. Ao invés de uma intervenção militar, custosa e impopular, o lawfare oferece meios de sufocar adversários mantendo a retórica da legalidade. Ele permite minar a soberania de outros Estados sem que isso seja formalmente reconhecido como ato de guerra. Dessa forma, o direito passa de limite à violência a instrumento de dominação.
Basta ver, as implicações que daí decorrem para a ordem internacional. O uso abusivo do lawfare traz profundas consequências para a ordem internacional. Em primeiro lugar, fragiliza a soberania dos Estados, que se veem expostos a decisões judiciais ou sanções jurídicas emanadas de potências estrangeiras. Em segundo lugar, compromete a credibilidade dos organismos multilaterais, que deixam de ser espaços de negociação entre iguais para se converterem em arenas de disputa assimétrica.
Esse cenário tende a gerar uma fragmentação da ordem internacional. De um lado, um bloco liderado pelos EUA e seus aliados, que instrumentaliza o direito segundo seus interesses; de outro, uma crescente articulação sino-russa em busca de alternativas normativas e institucionais. O risco é a consolidação de uma ordem internacional dupla, em que a legalidade dependerá da posição geopolítica de cada ator.
A instrumentalização do direito como arma pode ser interpretada sob diferentes chaves teóricas. Já não se trata da acepção que em Clausewitz, ao horizonte da coreagrfia napoleônica do teatro de guerra (a ponto de Hegel representa-lo como o espírito do tempo a cavalo). Para Clasewitz a guerra é a continuação da política por outros meios. Nesse sentido, o lawfare seria apenas mais uma manifestação da guerra em tempos de paz. Do mesmo modo, para Foucault, ivertendo a fórmula, a política é a continuação da guerra por outros meios: o direito, nesse caso, aparece como registro dessa disputa permanente, inscrito nas instituições.
As teorias críticas do direito internacional reforçam esse diagnóstico. Martti Koskenniemi mostra como os discursos jurídicos oscilam entre justificações técnicas e políticas, sempre suscetíveis à captura pelo poder. David Kennedy evidencia a proximidade estrutural entre guerra e direito, denunciando a fragilidade da pretensão de neutralidade. No horizonte latino-americano, a proposta de O Direito Achado na Rua enfatiza que o direito só pode ser emancipatório quando construído como instrumento de resistência social, e não como mecanismo de dominação.
Para poder inferir o alcance dos enunciados da tese, resta que o uso do lawfare como resposta norte-americana à suposta novidade das ameaças híbridas sino-russas revela uma contradição central. Aquilo que é denunciado como prática do outro já constitui prática consolidada dos próprios EUA. Ao instrumentalizar o direito como arma de guerra, eles não apenas fragilizam a soberania de outros Estados, mas corroem os fundamentos da ordem internacional que afirmam defender.
Mais grave ainda: ao transformar o direito em arma, minam sua legitimidade como limite à violência e como espaço de justiça. O risco é instaurar uma guerra permanente, invisível e jurídica, na qual ninguém pode confiar plenamente nas instituições.
Recupero da síntese da tese, na considerações finais, a compreensão dada pelo Autor, de que as guerras tradicionais evocam imagens de exércitos uniformizados em campos abertos, enquanto as novas guerras remetem a batalhas assimétricas e híbridas, travadas em selvas, cidades e também no ciberespaço. Atualmente, os conflitos estão fortemente ligados a injustiças sociais, crises humanitárias, crime organizado e disputas por recursos naturais. Nesse cenário, os Estados Unidos tiveram papel decisivo no surgimento do conceito de guerra híbrida ou zona cinzenta, como forma de preservar sua ordem e seus interesses.
Embora o conceito tenha raízes nos EUA, potências como Rússia e China elaboraram doutrinas próprias. A guerra híbrida não é apenas arma dos fracos contra os fortes, mas prática comum a qualquer potência em disputa estratégica. Desde os anos 2000, os EUA desenvolveram esse conceito, que influenciou tanto a OTAN quanto a União Europeia. A crise da Ucrânia em 2014 foi um marco, quando a “Doutrina Gerasimov” russa foi interpretada pelos EUA como exemplo de guerra híbrida, em meio a uma rivalidade marcada por discursos vitimistas e miméticos.
A Rússia justificou suas ações como defesa preventiva e proteção de minorias, enquanto acusava o Ocidente de ingerência. A China, por sua vez, avançou no Mar do Sul com base em doutrinas próprias, como a teoria da guerra irrestrita e a doutrina das Três Guerras. Ainda assim, os EUA se mantiveram protagonistas, valendo-se de sua diplomacia, de sua influência em organismos internacionais e de seu poder tecnológico, sobretudo no campo cibernético.
Apesar de sua liderança, a ordem internacional centrada nos EUA entrou em crise, desgastada por guerras intermináveis contra o terrorismo, por intervenções unilaterais e pelas consequências da globalização. Contudo, a capacidade estadunidense de mobilizar aliados contra Rússia e China permaneceu notável. A OTAN ampliou seus objetivos para além do Atlântico, sob a liderança dos EUA, que passaram a articular também o lawfare como parte essencial das ameaças híbridas.
Inicialmente, o lawfare era visto como instrumento usado contra os EUA por rivais, mas rapidamente se transformou em arma de sua própria geopolítica. O arsenal jurídico estadunidense se expressa em duas frentes: a reinterpretação de normas e o uso de tribunais para influenciar reputações, e a aplicação de leis extraterritoriais, como sanções e mecanismos de combate à corrupção, voltados para impor seus interesses. Essa instrumentalização do direito redefine o jus ad bellum e o jus in bello, legitimando práticas como a defesa preventiva e a intervenção humanitária unilateral.
No ciberespaço, os EUA impõem sua visão por meio do Manual de Tallinn, enquanto no Direito Internacional Humanitário adotam a noção de lei operacional, privilegiando a necessidade militar. Já no plano econômico, o dólar é usado como arma global, complementado por leis extraterritoriais como a OFAC e o FCPA, que sancionam empresas e governos. O caso Huawei ilustra o uso político dessas medidas, assim como o Brasil sofreu os efeitos do FCPA na Operação Lava Jato, que resultou no enfraquecimento da Petrobras e na reconfiguração de seu papel estratégico.
Essa prática visava neutralizar o Brasil como competidor, justificando privatizações e mudanças de regime. Mesmo após a Lava Jato, Trump impôs tarifas e sanções adicionais contra o país, demonstrando como o lawfare se articula a outras pressões econômicas. De modo mais amplo, os EUA utilizam suas normas extraterritoriais para manter aliados em posição de dependência e subjugar inimigos, sobretudo na América Latina, considerada seu quintal estratégico.
A guerra híbrida se revela, assim, um conceito flexível, moldado conforme os interesses de quem a utiliza. As acusações estadunidenses contra Rússia e China são acompanhadas de práticas semelhantes, revelando uma batalha ideológica que ecoa a lógica da Guerra Fria. O uso do direito como arma amplia a fragilidade da ordem jurídica internacional e alimenta a seletividade em sua aplicação, corroendo sua legitimidade.
Em última análise, a retórica das ameaças híbridas e do lawfare evidencia menos uma novidade do que a manipulação contínua da lei em prol das grandes potências. Essa prática mina a confiança no direito internacional, expõe suas contradições estruturais e coloca em dúvida a possibilidade de um sistema jurídico global equilibrado.
De minha parte, considero que o presidente Lula, em artigo que publicou em grandes jornais de 10 países – Le Monde (França), El País (Espanha), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemanha), Corriere della Sera (Itália), Yomiuri Shimbun (Japão), China Daily (China), Clarín (Argentina), La Jornada (México) – fixou pontos relevantes sobre a necessidade de construir uma nova ordem mundial, diante do desgaste do modelo que vigorava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No texto, ele dá exemplos de desgaste do antigo modelo, critica a aplicação da lei do mais forte entre as nações e aponta o multilateralismo como única saída: “Não há alternativa ao multilateralismo”. (https://brasilpopular.com/contra-a-truculencia-unilateralista-no-global-e-os-silverios-dos-reis-no-local-preservar-a-soberania-nacional-e-a-opcao-multilateral).
No artigo o Presidente alerta sobre o colapso iminente da ordem internacional construída após 1945, ameaçada pelo uso unilateral da força (conflitos no Iraque, Líbia, Ucrânia, Gaza), pelo protecionismo econômico, que fragmenta cadeias globais e gera inflação e estagnação, pelo esvaziamento institucional, com a Organização Mundial do Comércio enfraquecida.
Ele chama a atenção para a persistente desigualdade global, agravada por resgate de bilionários durante crises financeiras e para a negligência dos países ricos quanto ao financiamento prometido para o clima (COP30). Embora essas instituições tenham preservado a biodiversidade, erradicado doenças e ampliado os direitos trabalhistas, elas estão desatualizadas diante dos novos desafios globais.
E, tal como vem insistindo e parece ser uma posição racional necessária, ele indica que as organizações multilaterais devem ser reformuladas sobre bases mais justas, inclusivas e modernas, em face dos limites do unilateralismo. A “lei do mais forte“ — ou seja, sanções e tarifas unilaterais— destrói os sistemas de comércio global e a cooperação entre os povos.
Para o presidente Lula, não há alternativa ao multilateralismo, mas é fundamental refundar as instituições globais para garantir democracia, paz, justiça social e combate eficaz às crises globais (clima, conflitos, desigualdade). Somente assim, ele diz no artigo, será possível criar um futuro coletivo e sustentável — mantendo o legado positivo dessas instituições enquanto as adapta para servir às realidades do século XXI.
A manifestação se fez, quando se fez arder um estopim para o desencadeamento do lawfare contra o Brasil desde a descoberta das reservas do pré-sal que tornou ainda mais concreta a importância estratégica brasileira. Aliás, é Lucas da Silva Souza quem lembra isso, ao me trazer para fundamentar sua leitura dessa clivagem. De fato ele diz: “Para Sousa Júnior – págs. 238 e seguintes – a Lava Jato se destaca como um evento marcante na história recente do Brasil, servindo a interesses de elites e parte do sistema judicial e da mídia, pois, embora, tenha sido promovida como uma luta contra a corrupção, as ilegalidades e os desvios de conduta de seus agentes começam a ser expostos, evidenciando a necessidade de analisar o contexto jurídico e político por trás da operação. Tais características da operação, elucidam a necessidade de se investigar o seu papel como instrumento de regime de exceção.
Na passagem, vem as referências a algumas de minhas leituras sobre a questão, conforme SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Carol Proner: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos. In: RAMINA, Larissa (org.). Lawfare e América Latina: a guerra jurídica no contexto da guerra híbrida. Curitiba: Íthala, 2022. p. 627-658. Disponível em: https://www.ithala.com.br/wp-content/uploads/2022/03/ebook-mulheres-no direitointernacional-volume-2-larissa-ramina.pdf. Acesso em: 09 ago. 2025. p. 640.
E também INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Haverá justiça na sede de vingança?: direitos e garantias fundamentais não podem ser suprimidos em nome do combate à criminalidade. Entrevista especial com José Geraldo de Sousa Junior. Direitos e garantias fundamentais não podem ser suprimidos em nome do combate à criminalidade. Entrevista especial com José Geraldo de Sousa Junior. 2018. Disponível em: https://ihu.unisinos.br/594778-havera-justica-na-sede-de-vinganca-direitos-e-garantias-fundamentais-naopodem-ser-suprimidos-em-nome-do-combate-a-criminalidade-entrevista-especial-com-jose-geraldo-de-sousajunior. Acesso em: 10 ago. 2025.
Resta claro, portanto, que o objetivo precípuo era neutralizar o Brasil como concorrente geopolítico dos EUA. Para isso, a estratégia era enfraquecer as empresas estatais, especialmente as de setores estratégicos, usando a narrativa de “corrupção endêmica” para justificar a necessidade de reduzir o tamanho do Estado e reorganizá-lo em favor de interesses privados com o intuito de desinstitucionalizar o Estado e levá-lo à falência.
Ademais, como elucida Sousa, quando o Estado é privatizado, a lógica do direito privado e da propriedade se torna dominante, essa dinâmica despolitiza a vida coletiva e a transfere para a esfera judicial, resultando na judicialização da vida pública. Para o autor, o Brasil precisou ser “neutralizado” para que a riqueza nacional pudesse ser entregue ao capitalismo internacional, uma eleição não garantiria isso, e por essa razão, o Sistema Judiciário foi o encarregado de realizar essa tarefa, garantindo que os interesses globais fossem atendidos.
Aqui as referência procedem de SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Carol Proner: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos. In: RAMINA, Larissa (org.). Lawfare e América Latina: a guerra jurídica no contexto da guerra híbrida. Curitiba: Íthala, 2022. p. 627-658. Disponível em: https://www.ithala.com.br/wp-content/uploads/2022/03/ebook-mulheres-no-direitointernacional-volume-2-larissa-ramina.pdf. Acesso em: 09 ago. 2025. p. 644 e também SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Carol Proner: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos: intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos. In: RAMINA, Larissa (org.). Lawfare e América Latina: a guerra jurídica no contexto da guerra híbrida. Curitiba: Íthala, 2022. p. 627-658. Disponível em: https://www.ithala.com.br/wp-content/uploads/2022/03/ebook-mulheres-no-direitointernacional-volume-2-larissa-ramina.pdf. Acesso em: 09 ago. 2025. p. 647-648.
Leonardo Cunha de Britto. Lawfare e Neoliberalismo no Brasil: um Estudo sobre a Operação Lava Jato. Tese apresentada e defendida no Programa de Pós-graduação em Direito da UnB – DINTER – da Universidade de Brasília com a Universidade Federal do Acre. Brasília: Universidade de Brasília/Faculdade de Direito, 2024, indica essa mesma lógica pode-se situar a resposta conservadora que Nelson Rockfeller, indicou em 1969, no relatório sobre o estado da Aliança para o Progresso e a política dos EUA na América Latina que lhe fora encomendado pelo recém-eleito e empossado presidente dos EUA, Richard Nixon. Nelson Rockefeller uma liderança do Partido Republicano de Nixon e, na época, governador do estado de Nova York (no final da Segunda Guerra Mundial serviu no Departamento de Estado dos EUA como o líder da divisão responsável pelas relações latino-americanas) traçou diretrizes para calçar a intervenção do imperialismo, em novos moldes de guerra, guerra às drogas, guerra ao terrorismo e guerra contra a teologia da libertação (https://patrialatina.com.br/relatorio-rockefeller-sobre-as-americas-e-as-desgracas-que-nos-assolam/). Sabemos como opera essa lógica, que não se apoia em invasões militares, em golpes armados, mas que combina articulação jurídico-judiciária (sistemas de segurança) e religiosa (teologia da prosperidade, teologia do domínio, neopentecostalismo), incluindo a formação e ideologização de quadros desses sistemas (caso de integrantes das forças-tarefas do lavajatismo e dos meios de comunicação convocados para a guerra de narrativas), no sofisticado repertório do lawfare (https://estadodedireito.com.br/lawfare-e-neoliberalismo-no-brasil-um-estudo-sobre-a-operacao-lava-jato/).
Por todas as aproximações ao tema que vêm se colecionando nos últimos dez anos, não exagero em constatar que o trabalho de Larissa Ramina, presente na banca, juntamente com Carol Proner, mobilizando um pugilato de juristas integrantes de coletivos altamente mobilizados tem sido determinante para o resgate do utópico e de reservas democráticas que o institucional do Direito vem enfrentando engolfado no perigo do lawfare, e que agora, aos poucos vai se recompondo para preservar a democracia, o sistema de justiça e o processo eleitoral que quase se deixara capturar pelo fascismo e pela exceção, quando surto autoritário assaltou o país e o povo brasileiro, na conjuntura, tal como descreve Leonardo de Brito.
Ainda nessa direção, anoto que Carol Proner em co-organização com Gisele Cittadino, vem de lançar o livro 10 anos da operação lava jato: A desestabilização do Brasil, Canal 6 Editora, editada com o apoio de um conjunto de entidades sindicais, entre elas a CUT, com o objetivo, segundo o anunciado pelos organizadores de “revisitar a Operação Lava Jato e seus principais eventos passa a ser um dever, se queremos efetivamente entender as graves consequências produzidas no campo político, econômico e jurídico. No plano da política, os estudos de lawfare denotam o uso do direito como forma estratégica de perseguir adversários, agora transformados em inimigos, estratégia programática que vem sendo aplicada com o auxílio da extraterritorialidade e da colaboração internacional em matéria de combate à corrupção. No plano da economia, a Lava Jato foi responsável pela desarticulação da cadeia produtiva nacional na área da construção civil e da engenharia, bem como de óleo e gás e de outros setores estratégicos. No plano jurídico, o lavajatismo tornou-se referência de uma cultura de autoritarismo judicial que, em colaboração com meios de comunicação e a sensibilização da opinião pública, produziu verdadeiros processos de execração pública com julgamentos antecipados e ilegais contra pessoas, grupos empresariais públicos e privados, servidores públicos em geral, agentes estatais, políticos de modo geral, inaugurando uma nova forma de criminalização da política o país. Com uma extensa gama de autores, a obra revisita a operação que desestabilizou o Brasil”.
A propósito, considerando o tema e a tese de Lucas de Souza, vou à obra que Larissa Ramina (Org). Coleção Mulheres no Direito Internacional. Volumes IV, V e VI (com Lucas da Silva como co-organizador do volume VI. Lawfare. Guerra Jurídica e Retrocesso Democrático. Curitiba: Editora Íthala, 2022. Vol. IV, págs. 1-470 p; vol. V, págs. 471-686; vol. VI, 303 p. Disponível também em e-book (https://estadodedireito.com.br/lawfare-guerra-juridica-e-retrocesso-democratico/).
O que leva a constatar com Lucas que o lawfare revela-se sintoma de uma nova fase da guerra: invisível, jurídica e permanente. Ele ameaça corroer os fundamentos da ordem internacional e a credibilidade das democracias. Reafirma-se a necessidade de recuperar o direito como instrumento de emancipação e não como arma de dominação, construindo
Em artigo que escrevi para o jornal Correio Braziliense, Caderno Direito e Justiça, pág. 4 – Revogação de vistos: medida arbitrária e falaciosa https://www.correiobraziliense.com.br/direito-e-justica/2025/07/7207540-revogacao-de-vistos-medida-arbitraria-e-falaciosa.html#google_vignette, recortei dessa estratégia,a constatação de que todo Estado, por exemplo, e para por em relevo um ângulo agudo dessa corrosão, tem o direito soberano de decidir quem pode entrar, permanecer ou sair de seu território. Isso é reconhecido pelo direito internacional, especialmente no princípio da soberania territorial. Assim, a decisão de conceder, negar ou revogar um visto é em grande parte discricionária, ou seja, depende da avaliação unilateral do Estado emissor, sobretudo por razões de segurança nacional, ordem pública, interesse público.
Mas há limites a essa discricionariedade, referidos a acordos e obrigações internacionais, comprometendo os signatários à aplicação de critérios comuns, situações que devem condicionar a revogação de um visto em face de repercussões diplomáticas. Um Estado não pode negar ou revogar vistos com base em discriminação (raça, religião, orientação sexual, por exemplo) ou repatriar alguém a um país onde corra risco de tortura ou perseguição, ou situações que afrontem convenções internacionais de direitos humanos.
Vê-se, assim, que é principalmente uma confrontação com o Poder Judiciário, usando o pretexto de ação penal em curso contra réus indiciados por atentados à democracia e a Constituição, preparando uma escalada, da qual, a suspensão dos vistos, é pretexto para apontar a violação de liberdade de expressão americana, ativar ferramentas como a Lei Magnitsky e desestabilizar a coesão entre os magistrados brasileiros.
Mas a Lei Magnitsky até pode ser considerada como ferramenta poderosa de diplomacia de direitos humanos e combate à impunidade transnacional, mas não pode servir de pretexto para a adoção de medidas sancionadoras de protocolos internacionais ou bloqueios e sanções econômicas, não caracterizadas as situações que são o seu escopo.
De minha parte, considero que o presidente Lula, em artigo que publicou em grandes jornais de 10 países – Le Monde (França), El País (Espanha), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemanha), Corriere della Sera (Itália), Yomiuri Shimbun (Japão), China Daily (China), Clarín (Argentina), La Jornada (México) – fixou pontos relevantes sobre a necessidade de construir uma nova ordem mundial, diante do desgaste do modelo que vigorava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No texto, ele dá exemplos de desgaste do antigo modelo, critica a aplicação da lei do mais forte entre as nações e aponta o multilateralismo como única saída: “Não há alternativa ao multilateralismo”. (https://brasilpopular.com/contra-a-truculencia-unilateralista-no-global-e-os-silverios-dos-reis-no-local-preservar-a-soberania-nacional-e-a-opcao-multilateral/).
No artigo o Presidente alerta sobre o colapso iminente da ordem internacional construída após 1945, ameaçada pelo uso unilateral da força (conflitos no Iraque, Líbia, Ucrânia, Gaza), pelo protecionismo econômico, que fragmenta cadeias globais e gera inflação e estagnação, pelo esvaziamento institucional, com a Organização Mundial do Comércio enfraquecida.
Ele chama a atenção para a persistente desigualdade global, agravada por resgate de bilionários durante crises financeiras e para a negligência dos países ricos quanto ao financiamento prometido para o clima (COP30). Embora essas instituições tenham preservado a biodiversidade, erradicado doenças e ampliado os direitos trabalhistas, elas estão desatualizadas diante dos novos desafios globais.
E, tal como vem insistindo e parece ser uma posição racional necessária, ele indica que as organizações multilaterais devem ser reformuladas sobre bases mais justas, inclusivas e modernas, em face dos limites do unilateralismo. A “lei do mais forte“ — ou seja, sanções e tarifas unilaterais— destrói os sistemas de comércio global e a cooperação entre os povos.
Para o presidente Lula, não há alternativa ao multilateralismo, mas é fundamental refundar as instituições globais para garantir democracia, paz, justiça social e combate eficaz às crises globais (clima, conflitos, desigualdade). Somente assim, ele diz no artigo, será possível criar um futuro coletivo e sustentável — mantendo o legado positivo dessas instituições enquanto as adapta para servir às realidades do século XXI.
Não foi outra, em outro contexto, a nossa manifestação latino-americana, minha e de Cristovam Buarque, ex-Reitor da UnB, quando participantes, como convidados, os dois únicos latino-americanos, no Colóquio Internacional de Argel – Encontro de Personalidades Independentes, sobre o tema “Crise du Golfe: la Derive du Droit” (fevereiro de 1991, ainda no ápice da 1ª Guerra do Golfo, às vésperas do cessar-fogo).
Em Argel, entre personalidades do porte de Roger Garaudy, Bernard Langlois, Edmond Jouve, René Dumont, Monique Weyl, Pe. Jean Cardonnel, Regis Debret, o norte-americano ex-Secretário de Estado da Justiça Ramsey Clark, pudemos expressar tal como restou nos anais, o entendimento segundo o qual “a paz e as leis não são suficientes para conter a deriva e é preciso determinar um novo caminho civilizatório em que o progresso seja subordinado à ética, a economia às necessidades da sociedade e o direito aos fins da humanidade”.
Quero dizer, antecipando questões que hoje nos mobilizam, que no texto que apresentei ao Colóquio, no Painel “Guerra, Comunicação, Sociedade e Paz”, aproveitei as denotações possíveis em português da utilização do termo deriva para trabalhar um sentido hermenêutico para a análise do papel do Direito no contexto da crise do Golfo, de forma a estabelecer uma imbricação intencional entre as noções de desvio e de perda de rumo que o termo comporta. Por isso minha abordagem partiu de um questionamento: Qual Direito está à deriva?
Sustento no texto da comunicação a verificação de uma dupla incomunicabilidade entre a posição iraquiana e as imposições coloniais históricas em face da atitude das Nações Unidas dada a composição do Conselho de Segurança, de uma representação hegemônica mobilizada para converter razões políticas em decisões do tipo jurídico-legal.
Aproveitei para fazer crítica a Norberto Bobbio que, numa entrevista concedida após a ocupação do Kuwait (Coveite) mas antes que a guerra começasse, deduzia a possibilidade legalmente autorizada de intervenção no conflito, qualificando-a de guerra justa, fundamentad no direito de restabelecer a legalidade violada. Claro que sob condições, mas elidindo na opção – pela guerra – tornada possível pela interpretação desde a Resolução da ONU, sem se dar conta (ou apesar de se dar conta), que a deliberação acolhia interesses multinacionais (não internacionais) autoconstituídos. Para os termos da Convocatória do Colóquio de Argel, fundadados em posições contracoloniais, o que se passava então, era o transitar “de la force d’um droit affirmé”, à “um droit de la force inavoué”, sem garantias de subtrair-se à “la tentation de l’hégémonisme”. (Ver José Geraldo de Sousa Junior. A Crise do Golfo: a Deriva do Direito. In SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Sociologia Jurídica: Condições Sociais e Possibilidades Teóricas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 133-144; ver também BOBBIO, Norberto. El Problema de la Guerra y las Vias de la Paz, Gedisa, Barcelona, 1979; e, principalmente BOBBIO, Norberto. Folha de São Paulo, 29/01/1991; também LAFER, Celso, in A Guerra Justa dos Aliados. Jornal do Brasil, Ideias/Ensaios).
Além das implicações estratégicas, o lawfare provoca sérios dilemas éticos e democráticos. Ao transformar o direito em arma, subverte sua função originária de limitar a violência. O que deveria servir para proteger indivíduos e povos contra abusos torna-se mecanismo de opressão e manipulação.
No plano interno, isso se reflete no enfraquecimento das instituições democráticas, incapazes de resistir a processos judiciais seletivos ou a campanhas de criminalização política. No plano externo, gera desconfiança na imparcialidade do direito internacional, alimentando a percepção de que a justiça global não passa de instrumento de poder.
A tese de Lucas Silva de Souza está efetivamente muito bem posta no sentido do manejo dos conceitos e das categorias que movem as ameaças híbridas e o emprego ilegal do lawfare na guerra e como seu substituto. Ele confirma na conclusão o que enunciou no título da tese. Ele também esgrime com aprumo os elementos de se quadro teórico-crítico.
Mas ao se por a questão da instrumentalização do direito como arma pode ser interpretada sob diferentes chaves teóricas, seja do ponto de vista das leituras clássicas, em Clausewitz, com a concepção de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Nesse sentido, o lawfare seria apenas mais uma manifestação da guerra em tempos de paz. Ou, em Foucault, ao contrário, sugerindo que a política é a continuação da guerra por outros meios, o direito, nesse caso, aparece como registro dessa disputa permanente, inscrito nas instituições.
Mesmo as teorias críticas do direito internacional acabam reforçando esse diagnóstico. E confinando os discursos jurídicos oscilam entre justificações técnicas e políticas, sempre suscetíveis à captura pelo poder. Até a evidencia da proximidade estrutural entre guerra e direito, denunciando a fragilidade da pretensão de neutralidade.
Entretanto, no horizonte latino-americano, incluindo o Brasil, Lucas se dá conta de que nos modelos típicos de mudança de regime do século passado, eram instituídos estados de exceção como medidas de emergência com fulcro no discurso da defesa da segurança do Estado e da sociedade. E que hoje, o autoritarismo “está relacionado às novas naturezas das medidas de exceção no interior das rotinas democráticas. As medidas de exceção são fragmentadas, cirúrgicas e com aparência de legalidade”.
Lucas percebe que a via utilizada é a subversão dos próprios instrumentos e instituições democráticas, gerando uma regressão constitucional que desidrata paulatinamente o Estado de direito e a democracia. Por isso de novo, ele me cita: “Segundo Sousa Júnior, esse processo, embora não seja um golpe militar tradicional, representa uma ruptura com a base legítima do sistema jurídico-constitucional e um ataque à democracia, trata-se de uma manifestação do “Estado de Exceção Democrática”, onde as leis e a Constituição são esvaziadas de seu verdadeiro propósito para atender a interesses políticos e de poder” (p. 238, da tese).
Assim que a tese de Lucas Silva de Souza está efetivamente muito bem posta no sentido do manejo dos conceitos e das categorias que movem as ameaças híbridas e o emprego ilegal do lawfare na guerra e como seu substituto. Ele confirma na conclusão o que enunciou no título da tese. Mas a meu ver ele precisa se dar conta de que o direito internacional não carrega o potencial emancipatório que escape à deriva para a qual cada vez mais as tentações unilaterais e hegemonistas o empurram. Penso que a proposta de O Direito Achado na Rua é uma alternativa crítica (à política como continuidade da guerra e o lawfare como seu instrumento), dado o seu uso contra-hegemônico do direito, enquanto enfatiza que o direito só pode ser emancipatório quando construído como instrumento de resistência social, contracolonial e não como mecanismo de dominação. Que se constitua como dimensão ética e democrática (https://estadodedireito.com.br/o-direito-achado-na-rua-contribuicoes-para-a-teoria-critica-do-direito/).
Vale dizer, é sua conclusão, “impõe-se recuperar o direito como instrumento emancipatório, capaz de servir à justiça e à dignidade humana. Isso exige não apenas denunciar o lawfare como prática de dominação, mas também construir alternativas normativas e institucionais que devolvam ao direito sua função de proteção, e não de opressão”.


 Foto Valter Campanato
Foto Valter Campanato